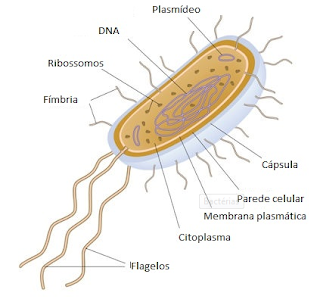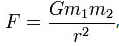A História do Brasil
A História do Brasil começa com a chegada dos primeiros humanos no continente americano há mais de 8.000 anos. Em fins do século XV toda a área hoje conhecida como Brasil era habitada por tribos seminômades que subsistiam da caça, pesca, coleta e agricultura. No ano de 1500, Pedro Álvares Cabral, capitão-mor de expedição portuguesa a caminho das Índias, chegou ao litoral sul da Bahia, tornando a região colônia do Reino de Portugal. Trinta anos depois, a Coroa Portuguesa implementou uma política de colonização para a terra recém-descoberta que se organizou por meio da distribuição de capitanias hereditárias a membros da nobreza, porém esse sistema malogrou, uma vez que somente as capitanias de Pernambuco e São Vicente prosperaram. Em 1548 é criado o Estado do Brasil, com consequente instalação de um governo-geral, e no ano seguinte é fundada a primeira sede colonial, Salvador. A economia da colônia, iniciada com o extrativismo do pau-brasil e as trocas entre os colonos e os índios, gradualmente passou a ser dominada pelo cultivo da cana-de-açúcar para fins de exportação, tendo em Pernambuco o seu principal centro produtor, região que chegou a atingir o posto de maior e mais rica área de produção de açúcar do mundo. No fim do século XVII foram descobertas, através das bandeiras, importantes jazidas de ouro no interior do Brasil que foram determinantes para o seu povoamento e que pontuam o início do chamado Ciclo do ouro, período que marca a ascensão do atual estado de Minas Gerais na economia colonial. Em 1763, a sede do Estado do Brasil foi transferida para o Rio de Janeiro.
Em 1808, com a transferência da corte portuguesa para o Brasil, fugindo da possível subjugação da França, consequência da Guerra Peninsular travada entre as tropas portuguesas e as de Napoleão Bonaparte, o Príncipe-regente Dom João de Bragança, filho da Rainha Dona Maria I, abriu os portos da então colônia, permitiu o funcionamento de fábricas e fundou o Banco do Brasil. Em 1815, o então Estado do Brasil foi elevado à condição de reino, unido aos reinos de Portugal e Algarves, com a designação oficial de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, tendo Dona Maria I de Portugal acumulado as três coroas. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro de Alcântara proclamou a Independência do Brasil em relação ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, e fundou o Império do Brasil, sendo coroado imperador como Dom Pedro I. Ele reinou até 1831, quando abdicou e passou a Coroa brasileira ao seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que tinha apenas cinco anos. Aos catorze anos, em 1840, Dom Pedro de Alcântara (filho) teve sua maioridade declarada, sendo coroado imperador no ano seguinte como Dom Pedro II.
Em 15 de novembro de 1889, ocorreu a Proclamação da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca e teve início a República Velha, que só veio terminar em 1930 com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. A partir daí, têm destaque na história brasileira a industrialização do país; sua participação na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos; e o Golpe Militar de 1964, quando o general Castelo Branco assumiu a Presidência. A ditadura militar, a pretexto de combater a subversão e a corrupção, suprimiu direitos constitucionais, perseguiu e censurou os meios de comunicação, extinguiu os partidos políticos e criou o bipartidarismo. Após o fim do regime militar, os deputados federais e senadores se reuniram no ano de 1988 em Assembleia Nacional Constituinte e promulgaram a nova Constituição, que amplia os direitos individuais. O país se redemocratiza, avança economicamente e cada vez mais se insere no cenário internacional.
Os Índios no Brasil
Simplício de Sá: Retrato de Dom Pedro I, c. 1826. Museu Imperial.
Após a declaração da independência, o Brasil foi governado por Dom Pedro I até o ano de 1831, período chamado de Primeiro Reinado, quando abdicou em favor de seu filho, Dom Pedro II, então com cinco anos de idade.
Logo após a independência, e terminadas as lutas nas províncias contra a resistência portuguesa, foi necessário iniciar os trabalhos da Assembleia Constituinte. Esta havia sido convocada antes mesmo da separação, em julho de 1822; foi instalada, entretanto, somente em maio de 1823. Logo se tornou claro que a Assembleia iria votar uma constituição restringindo os poderes imperiais (apesar da ideia centralizadora encampada por José Bonifácio e seu irmão Antônio Carlos de Andrada e Silva). Porém, antes que ela fosse aprovada, as tropas do exército cercaram o prédio da Assembleia, e por ordens do imperador a mesma foi dissolvida, devendo a constituição ser elaborada por juristas da confiança de Dom Pedro I. Foi então outorgada a constituição de 1824, que trazia uma inovação: o Poder Moderador. Através dele, o imperador poderia fiscalizar os outros três poderes.
Surgiram diversas críticas ao autoritarismo imperial, e uma revolta importante aconteceu no Nordeste: a Confederação do Equador. Foi debelada, mas Dom Pedro I saiu muito desgastado do episódio. Outro grande desgaste do Imperador foi por o Brasil na Guerra da Cisplatina, onde o país não manteve o controle sobre a então região de Cisplatina (hoje, Uruguai). Também apareciam os primeiros focos de descontentamento no Rio Grande do Sul, com os farroupilhas.
Pedro Américo: O Grito do Ipiranga, 1888. Museu Paulista.
Em 1831 o imperador decidiu visitar as províncias, numa última tentativa de estabelecer a paz interna. A viagem deveria começar por Minas Gerais; mas ali o imperador encontrou uma recepção fria, pois acabara de ser assassinado Líbero Badaró, um importante jornalista de oposição. Ao voltar para o Rio de Janeiro, Dom Pedro deveria ser homenageado pelos portugueses, que preparavam-lhe uma festa de apoio; mas os brasileiros, discordando da festa, entraram em conflito com os portugueses, no episódio conhecido como Noite das Garrafadas.
Dom Pedro tentou mais uma medida: nomeou um gabinete de ministros com suporte popular. Mas desentendeu-se com os ministros e logo depois demitiu o gabinete, substituindo-o por outro bastante impopular. Frente a uma manifestação popular que recebeu o apoio do exército,não teve muita escolha, assim criou o quinto poder. Mas não deu certo a ideia, e não restou nada ao imperador a não ser a renúncia, no dia 7 de abril de 1831.
Aquele que recebia o título de capitão donatário não poderia realizar a venda das terras oferecidas, mas tinha o direito de repassá-las aos seus descendentes. No momento da posse, o capitão donatário recebia duas importantes documentações da Coroa: a Carta de Doação e o Foral. Nesse primeiro documento ficava estabelecido que o governo de Portugal cedia o uso de uma determinada capitania a um donatário e que este não poderia negociá-la sob nenhuma hipótese.
Já o Foral determinava o conjunto específico de direitos e obrigações que o capitão donatário teria em suas mãos. Ele poderia fundar vilas, doar sesmarias (lotes de terra não cultivados), exercer funções judiciárias e militares, cobrar tributos e realizar a escravização de um número fixo de indígenas. Com relação às atividades econômicas, ele poderia ter uma parte dos lucros, desde que isso não ferisse os direitos de arrecadação da Coroa Portuguesa.
Apesar de tantas especificidades e regras de funcionamento, o sistema de capitanias hereditárias acabou não alcançando os resultados esperados. A falta de apoio econômico do governo, a inexperiência de alguns donatários, as dificuldades de comunicação e locomoção, e a hostilidade dos indígenas dificultaram bastante a execução deste projeto. Com o passar do tempo, muito donatários abriram mão do privilégio e outros nem mesmo reuniram recursos para atravessar o Atlântico e formalizar a posse.
As capitanias de São Vicente e Pernambuco foram as únicas que conseguiram prosperar e superar as dificuldades da época. A explicação dada para esses dois casos se encontra nos lucros obtidos com a instalação da indústria açucareira nestas regiões. Posteriormente, os portugueses decidiram centralizar o modelo político-administrativo do território com a implantação do Governo-geral. Somente em 1759, as capitanias hereditárias desapareceram com a ação do ministro Marquês de Pombal.
Governo geral
 Entre os anos de 1572 e 1578, o rei D. Sebastião buscou aprimorar o sistema de Governo Geral realizando a divisão do mesmo em duas partes. Um ao norte, com capital na cidade de Salvador, e outro ao sul, com uma sede no Rio de Janeiro. Nesse tempo, os resultados pouco satisfatórios acabaram promovendo a reunificação administrativa com o retorno da sede a Salvador. No ano de 1621, um novo tipo de divisão foi organizado com a criação do Estado do Brasil e do Estado do Maranhão.
Entre os anos de 1572 e 1578, o rei D. Sebastião buscou aprimorar o sistema de Governo Geral realizando a divisão do mesmo em duas partes. Um ao norte, com capital na cidade de Salvador, e outro ao sul, com uma sede no Rio de Janeiro. Nesse tempo, os resultados pouco satisfatórios acabaram promovendo a reunificação administrativa com o retorno da sede a Salvador. No ano de 1621, um novo tipo de divisão foi organizado com a criação do Estado do Brasil e do Estado do Maranhão.
Em 1808, com a transferência da corte portuguesa para o Brasil, fugindo da possível subjugação da França, consequência da Guerra Peninsular travada entre as tropas portuguesas e as de Napoleão Bonaparte, o Príncipe-regente Dom João de Bragança, filho da Rainha Dona Maria I, abriu os portos da então colônia, permitiu o funcionamento de fábricas e fundou o Banco do Brasil. Em 1815, o então Estado do Brasil foi elevado à condição de reino, unido aos reinos de Portugal e Algarves, com a designação oficial de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, tendo Dona Maria I de Portugal acumulado as três coroas. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro de Alcântara proclamou a Independência do Brasil em relação ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, e fundou o Império do Brasil, sendo coroado imperador como Dom Pedro I. Ele reinou até 1831, quando abdicou e passou a Coroa brasileira ao seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que tinha apenas cinco anos. Aos catorze anos, em 1840, Dom Pedro de Alcântara (filho) teve sua maioridade declarada, sendo coroado imperador no ano seguinte como Dom Pedro II.
Em 15 de novembro de 1889, ocorreu a Proclamação da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca e teve início a República Velha, que só veio terminar em 1930 com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. A partir daí, têm destaque na história brasileira a industrialização do país; sua participação na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos; e o Golpe Militar de 1964, quando o general Castelo Branco assumiu a Presidência. A ditadura militar, a pretexto de combater a subversão e a corrupção, suprimiu direitos constitucionais, perseguiu e censurou os meios de comunicação, extinguiu os partidos políticos e criou o bipartidarismo. Após o fim do regime militar, os deputados federais e senadores se reuniram no ano de 1988 em Assembleia Nacional Constituinte e promulgaram a nova Constituição, que amplia os direitos individuais. O país se redemocratiza, avança economicamente e cada vez mais se insere no cenário internacional.
Os Índios no Brasil
A presença dos índios no território brasileiro é muito anterior ao processo de ocupação estabelecido pelos exploradores europeus que aportaram em nossas terras. Segundo os dados presentes em algumas estimativas, a população indígena brasileira variava entre três e cinco milhões de habitantes. Entre essa vasta população, observamos o desenvolvimento de civilizações heterogêneas entre as quais podemos citar os xavantes, caraíbas, tupis, jês e guaranis.
Geralmente, o acesso às informações sobre essas populações são bastante restritas. A falta de fontes escritas e o próprio processo de dizimação dessas culturas acabaram limitando as possibilidades de estudo das mesmas. Em geral, o maior contato desenvolvido entre índios e europeus aconteceu nas faixas litorâneas do nosso território, onde predominam os povos indígenas pertencentes ao grupo tupi-guarani. Apesar das várias generalizações, relatos do século XVI esclarecem alguns hábitos desse povo.
De acordo com esses registros, os povos tupi-guarani organizavam aldeias que variavam entre os seus 500 e 750 habitantes. A presença da aldeia era temporária e todo o seu contingente era dividido entre seis a dez casas, sendo que cada uma delas poderia variar de tamanho e comprimento de acordo com as necessidades materiais e culturais de cada aldeia. Para buscarem sustento, os tupis desenvolveram a exploração da coleta, da caça, da pesca e, em alguns casos, das atividades agrícolas.
Sob o ponto de vista político, essas comunidades não contavam com nenhum tipo de organização estatal ou hierarquia política que pudesse distinguir seus integrantes. Apesar disso, não podemos ignorar que alguns guerreiros e chefes espirituais eram valorizados pelas habilidades que detinham. Muitas vezes, diferentes tribos mantinham contato entre si em busca da manutenção de alguns laços culturais ou em razão da proximidade da língua falada.
A realização das tarefas cotidianas poderia variar segundo o gênero e a idade de cada um dos integrantes da aldeia. Em suma, as mulheres tinham a obrigação de desenvolver as atividades agrícolas, fabricar peças artesanais, processar os alimentos e cuidar dos menores. Já os homens deveriam realizar o preparo das terras e as atividades de caça e pesca. Tendo outro modelo de organização familiar, os índios organizavam casamentos e, em algumas situações, a poligamia era aceita.
No campo religioso, alguns desses povos acreditavam na existência dos espíritos, na reencarnação dos seus antepassados e na compreensão dos fenômenos naturais como divindades. Em diversas situações, esse corolário de crenças era fonte de explicação para a origem do mundo ou a ocorrência de algum evento significativo. Em alguns casos, os índios praticavam a antropofagia como um importante ritual em que os guerreiros da tribo absorviam a força e as habilidades dos inimigos capturados.
Historicamente, a situação dos índios variou entre quadros de completo abandono, perseguição e miséria. Até meados da segunda metade do século XX, alguns especialistas no assunto acreditavam que a presença dos índios chegaria a um fim. Contudo, estipulados em uma população de aproximadamente um milhão de indivíduos, os indígenas hoje buscam o reconhecimento de seus diretos pelo Estado e ainda sofrem grandes obstáculos no exercício de sua autonomia.
Primeiro reinadoSimplício de Sá: Retrato de Dom Pedro I, c. 1826. Museu Imperial.
Após a declaração da independência, o Brasil foi governado por Dom Pedro I até o ano de 1831, período chamado de Primeiro Reinado, quando abdicou em favor de seu filho, Dom Pedro II, então com cinco anos de idade.
Logo após a independência, e terminadas as lutas nas províncias contra a resistência portuguesa, foi necessário iniciar os trabalhos da Assembleia Constituinte. Esta havia sido convocada antes mesmo da separação, em julho de 1822; foi instalada, entretanto, somente em maio de 1823. Logo se tornou claro que a Assembleia iria votar uma constituição restringindo os poderes imperiais (apesar da ideia centralizadora encampada por José Bonifácio e seu irmão Antônio Carlos de Andrada e Silva). Porém, antes que ela fosse aprovada, as tropas do exército cercaram o prédio da Assembleia, e por ordens do imperador a mesma foi dissolvida, devendo a constituição ser elaborada por juristas da confiança de Dom Pedro I. Foi então outorgada a constituição de 1824, que trazia uma inovação: o Poder Moderador. Através dele, o imperador poderia fiscalizar os outros três poderes.
Surgiram diversas críticas ao autoritarismo imperial, e uma revolta importante aconteceu no Nordeste: a Confederação do Equador. Foi debelada, mas Dom Pedro I saiu muito desgastado do episódio. Outro grande desgaste do Imperador foi por o Brasil na Guerra da Cisplatina, onde o país não manteve o controle sobre a então região de Cisplatina (hoje, Uruguai). Também apareciam os primeiros focos de descontentamento no Rio Grande do Sul, com os farroupilhas.
Pedro Américo: O Grito do Ipiranga, 1888. Museu Paulista.
Em 1831 o imperador decidiu visitar as províncias, numa última tentativa de estabelecer a paz interna. A viagem deveria começar por Minas Gerais; mas ali o imperador encontrou uma recepção fria, pois acabara de ser assassinado Líbero Badaró, um importante jornalista de oposição. Ao voltar para o Rio de Janeiro, Dom Pedro deveria ser homenageado pelos portugueses, que preparavam-lhe uma festa de apoio; mas os brasileiros, discordando da festa, entraram em conflito com os portugueses, no episódio conhecido como Noite das Garrafadas.
Dom Pedro tentou mais uma medida: nomeou um gabinete de ministros com suporte popular. Mas desentendeu-se com os ministros e logo depois demitiu o gabinete, substituindo-o por outro bastante impopular. Frente a uma manifestação popular que recebeu o apoio do exército,não teve muita escolha, assim criou o quinto poder. Mas não deu certo a ideia, e não restou nada ao imperador a não ser a renúncia, no dia 7 de abril de 1831.
Capitanias hereditárias
Nas primeiras décadas do século XVI, Portugal, ainda atraído pelo comércio oriental, restringiu ao extrativismo suas ações de exploração do território colonial brasileiro. Dessa forma, realizava poucas expedições que somente transportavam as toras de pau-brasil que eram trazidas pelos índios ao litoral e organizavam algumas expedições de proteção e reconhecimento do litoral brasileiro.
Apesar dessas ações, a ameaça de invasão dos corsários estrangeiros, principalmente franceses, obrigou a Coroa Portuguesa a rever sua política de ocupação na colônia. A primeira medida tomada nesse sentido aconteceu em 1530, quando a expedição de Martim Afonso de Sousa foi enviada com os primeiros colonos a se fixarem definitivamente no espaço colonial. Por obrigação, Martim Afonso e os demais colonizadores deveriam fundar vilas, povoar e desenvolver a economia local.
No ano de 1534, dando continuidade ao projeto de tomada de posse, o rei dom João III dividiu a nova colônia em quinze faixas de terra. Cada um desses imensos lotes de terra integraria o sistema de capitanias hereditárias, que transferiu a responsabilidade de ocupar e colonizar o território colonial para terceiros. Nesse sistema, o rei entregava uma capitania a algum membro da corte de sua confiança que, a partir de então, se transformava em capitão donatário.
No ano de 1534, dando continuidade ao projeto de tomada de posse, o rei dom João III dividiu a nova colônia em quinze faixas de terra. Cada um desses imensos lotes de terra integraria o sistema de capitanias hereditárias, que transferiu a responsabilidade de ocupar e colonizar o território colonial para terceiros. Nesse sistema, o rei entregava uma capitania a algum membro da corte de sua confiança que, a partir de então, se transformava em capitão donatário.
Aquele que recebia o título de capitão donatário não poderia realizar a venda das terras oferecidas, mas tinha o direito de repassá-las aos seus descendentes. No momento da posse, o capitão donatário recebia duas importantes documentações da Coroa: a Carta de Doação e o Foral. Nesse primeiro documento ficava estabelecido que o governo de Portugal cedia o uso de uma determinada capitania a um donatário e que este não poderia negociá-la sob nenhuma hipótese.
Já o Foral determinava o conjunto específico de direitos e obrigações que o capitão donatário teria em suas mãos. Ele poderia fundar vilas, doar sesmarias (lotes de terra não cultivados), exercer funções judiciárias e militares, cobrar tributos e realizar a escravização de um número fixo de indígenas. Com relação às atividades econômicas, ele poderia ter uma parte dos lucros, desde que isso não ferisse os direitos de arrecadação da Coroa Portuguesa.
Apesar de tantas especificidades e regras de funcionamento, o sistema de capitanias hereditárias acabou não alcançando os resultados esperados. A falta de apoio econômico do governo, a inexperiência de alguns donatários, as dificuldades de comunicação e locomoção, e a hostilidade dos indígenas dificultaram bastante a execução deste projeto. Com o passar do tempo, muito donatários abriram mão do privilégio e outros nem mesmo reuniram recursos para atravessar o Atlântico e formalizar a posse.
As capitanias de São Vicente e Pernambuco foram as únicas que conseguiram prosperar e superar as dificuldades da época. A explicação dada para esses dois casos se encontra nos lucros obtidos com a instalação da indústria açucareira nestas regiões. Posteriormente, os portugueses decidiram centralizar o modelo político-administrativo do território com a implantação do Governo-geral. Somente em 1759, as capitanias hereditárias desapareceram com a ação do ministro Marquês de Pombal.
Governo geral
Respondendo ao fracasso do sistema das capitanias hereditárias, o governo português realizou a centralização da administração colonial com a criação do governo-geral, em 1548. Entre as justificativas mais comuns para que esse primeiro sistema viesse a entrar em colapso, podemos destacar o isolamento entre as capitanias, a falta de interesse ou experiência administrativa e a própria resistência contra a ocupação territorial oferecida pelos índios.
Em vias gerais, o governador-geral deveria viabilizar a criação de novos engenhos, a integração dos indígenas com os centros de colonização, o combate do comércio ilegal, construir embarcações, defender os colonos e realizar a busca por metais preciosos. Mesmo que centralizadora, essa experiência não determinou que o governador cumprisse todas essas tarefas por si só. De tal modo, o governo-geral trouxe a criação de novos cargos administrativos.
O ouvidor-mor era o funcionário responsável pela resolução de todos os problemas de natureza judiciária e o cumprimento das leis vigentes. O chamado provedor-mor estabelecia os seus trabalhos na organização dos gastos administrativos e na arrecadação dos impostos cobrados. Além destas duas autoridades, o capitão-mor desenvolvia ações militares de defesa que estavam, principalmente, ligadas ao combate dos invasores estrangeiros e ao ataque dos nativos.
Na maioria dos casos, as ações a serem desenvolvidas pelo governo-geral estavam subordinadas a um tipo de documento oficial da Coroa Portuguesa, conhecido como regimento. A metrópole expedia ordens comprometidas com o aprimoramento das atividades fiscais e o estímulo da economia colonial. Mesmo com a forte preocupação com o lucro e o desenvolvimento, a Coroa foi alvo de ações ilegais em que funcionários da administração subvertiam as leis em benefício próprio.
 Entre os anos de 1572 e 1578, o rei D. Sebastião buscou aprimorar o sistema de Governo Geral realizando a divisão do mesmo em duas partes. Um ao norte, com capital na cidade de Salvador, e outro ao sul, com uma sede no Rio de Janeiro. Nesse tempo, os resultados pouco satisfatórios acabaram promovendo a reunificação administrativa com o retorno da sede a Salvador. No ano de 1621, um novo tipo de divisão foi organizado com a criação do Estado do Brasil e do Estado do Maranhão.
Entre os anos de 1572 e 1578, o rei D. Sebastião buscou aprimorar o sistema de Governo Geral realizando a divisão do mesmo em duas partes. Um ao norte, com capital na cidade de Salvador, e outro ao sul, com uma sede no Rio de Janeiro. Nesse tempo, os resultados pouco satisfatórios acabaram promovendo a reunificação administrativa com o retorno da sede a Salvador. No ano de 1621, um novo tipo de divisão foi organizado com a criação do Estado do Brasil e do Estado do Maranhão.
Ao contrário do que se possa imaginar, o sistema de capitanias hereditárias não foi prontamente descartado com a organização do governo-geral. No ano de 1759, a capitania de São Vicente foi a última a ser destituída pela ação oficial do governo português. Com isso, observamos que essas formas de organização administrativa conviveram durante um bom tempo na colônia.
Proclamação da republica
O processo histórico em que se desenvolveu o fim do regime monárquico brasileiro e a ascensão da ordem republicana no Brasil perpassa por uma série de transformações em que visualizamos a chegada dos militares ao poder. De fato, a proposta de um regime republicano já vivia uma longa história manifestada em diferentes revoltas.
Entre tantas tentativas de transformação, a Revolução Farroupilha (1835-1845) foi a última a levantar-se contra a monarquia.
Podemos destacar a importância do processo de industrialização e o crescimento da cafeicultura enquanto fatores de mudança sócio-econômica. As classes médias urbanas e os cafeicultores do Oeste paulista buscavam ampliar sua participação política através de uma nova forma de governo. Ao mesmo tempo, os militares que saíram vitoriosos da Guerra do Paraguai se aproximaram do pensamento positivista, defensor de um governo republicano centralizado.
Além dessa demanda por transformação política, devemos também destacar como a campanha abolicionista começou a divulgar uma forte propaganda contra o regime monárquico. Vários entusiastas da causa abolicionista relacionavam os entraves do desenvolvimento nacional às desigualdades de um tipo de relação de trabalho legitimado pelas mãos de Dom Pedro II. Dessa forma, o fim da monarquia era uma opção viável para muitos daqueles que combatiam a mão de obra escrava.
Até aqui podemos ver que os mais proeminentes intelectuais e mais importantes membros da elite agroexportadora nacional não mais apoiavam a monarquia. Essa perda de sustentação política pode ser ainda explicada com as consequências de duas leis que merecem destaque. Em 1850, a lei Eusébio de Queiroz proibiu a tráfico de escravos, encarecendo o uso desse tipo de força de trabalho. Naquele mesmo ano, a Lei de Terras preservava a economia nas mãos dos grandes proprietários de terra.
O conjunto dessas transformações ganhou maior força a partir de 1870. Naquele ano, os republicanos se organizaram em um partido e publicaram suas ideias no Manifesto Republicano. Naquela altura, os militares se mobilizaram contra os poderes amplos do imperador e, pouco depois, a Igreja se voltou contra a monarquia depois de ter suas medidas contra a presença de maçons na Igreja anuladas pelos poderes concedidos ao rei.
No ano de 1888, a abolição da escravidão promovida pelas mãos da princesa Isabel deu o último suspiro à Monarquia Brasileira. O latifúndio e a sociedade escravista que justificavam a presença de um imperador enérgico e autoritário, não faziam mais sentido às novas feições da sociedade brasileira do século XIX. Os clubes republicanos já se espalhavam em todo o país e naquela mesma época diversos boatos davam conta sobre a intenção de Dom Pedro II em reconfigurar os quadros da Guarda Nacional.
A ameaça de deposição e mudança dentro do exército serviu de motivação suficiente para que o Marechal Deodoro da Fonseca agrupasse as tropas do Rio de Janeiro e invadisse o Ministério da Guerra. Segundo alguns relatos, os militares pretendiam inicialmente exigir somente a mudança do Ministro da Guerra. No entanto, a ameaça militar foi suficiente para dissolver o gabinete imperial e proclamar a República.
O golpe militar promovido em 15 de novembro de 1889 foi reafirmado com a proclamação civil de integrantes do Partido Republicano, na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Ao contrário do que aparentou, a proclamação foi consequência de um governo que não mais possuía base de sustentação política e não contou com intensa participação popular. Conforme salientado pelo ministro Aristides Lobo, a proclamação ocorreu às vistas de um povo que assistiu tudo de forma bestializada.
Dia da abolição da escravatura
A partir da segunda metade do século XIX, vários intelectuais, escritores, jornalistas e políticos discutiam a relação existente entre a utilização da mão de obra escrava e a questão do desenvolvimento nacional. Enquanto as nações europeias se industrializavam e buscavam formas de ampliar a exploração da mão de obra assalariada, o Brasil se afastava desses modelos de civilidade ao preservar a escravidão como prática rotineira.
De fato, mais do que uma questão moral, a escravidão já
apresentava vários sinais de decadência nessa época. A proibição do tráfico encareceu o valor de obtenção de uma peça e a utilização da força de trabalho dos imigrantes europeus já começava a ganhar espaço. Com isso, podemos ver que a necessidade de se abandonar o escravismo representava uma ação indispensável para que o Brasil viesse a se integrar ao processo de expansão do capitalismo.
A Inglaterra, mais importante nação industrial dessa época, realizava enormes pressões para que o governo imperial acabasse com a escravidão. Por de trás de um discurso humanista, os britânicos tinham interesse real em promover a expansão do mercado consumidor brasileiro por meio da formação de uma massa de trabalhadores assalariados. Paralelamente, os centros urbanos brasileiros já percebiam que o custo do trabalhador livre era inferior ao do escravo.
Respondendo a esse conjunto de fatores, o governo brasileiro aprova a Lei Eusébio de Queiroz, que, em 1850, estipulou a proibição do tráfico negreiro. Décadas mais tarde, a Lei do Ventre Livre (1871) previa a liberdade para todos os filhos de escravos. Esses primeiros passos rumo à abolição incitaram a criação da Sociedade Brasileira contra a Escravidão e, três anos mais tarde, no estabelecimento da Confederação Abolicionista, em 1883.
Apesar de toda essa efervescência abolicionista manifestada em artigos de jornal, conferências e na organização de fugas, vários membros da elite rural se opunham a tal projeto. Buscando conter a agitação dos abolicionistas, o Império Brasileiro aprovou a Lei Saraiva-Cotegipe ou Lei dos Sexagenários, que previu, no ano de 1885, a libertação de todos os escravos com mais de 65 anos de idade. Na prática, a lei atingia uma ínfima parcela de escravos que detinham um baixo potencial produtivo.
Dando continuidade à agitação abolicionista, vemos que o ano de 1887 foi marcado pela recusa do Exército brasileiro em perseguir escravos e a clara manifestação da Igreja Católica contra tal prática. No ano seguinte, assumindo o trono provisoriamente no lugar do pai, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, no dia 13 de maio. Possuindo apenas dois artigos, a lei previu a libertação dos escravos em território brasileiro e a revogação de qualquer lei que fosse contrária a essa medida.
Apesar de estabelecer um marco no fim da escravidão, a Lei Áurea não promoveu transformações radicais nos cerca de 750 mil escravos libertos em território brasileiro. Sem nenhum amparo governamental, os alforriados se dirigiram para as grandes cidades ou se mantiveram empregados nas suas propriedades de origem. De fato, ao invés de promover a integração do negro à sociedade, a libertação foi seguida pelo aprofundamento da marginalização das camadas populares no Brasil.
Governos militares
Os chamados Governos Militares, ou Governos do Regime Militar Brasileiro, que estiveram no poder de 1964 a 1985, estabeleceram-se na política brasileira em uma ocasião em que o país estava mergulhado em uma de suas piores crises, nos primeiros meses do ano de 1964. O Golpe de 1964, entendido pelos próprios militares como “Revolução de 1964”, foi uma insurreição de setores das forças armadas brasileiras contra o governo de João Goulart e suas propostas. Essas propostas, diga-se de passagem, também tiveram apoio de outros setores das mesmas Forças Armadas. O golpe foi dado em 31 de março e completou-se no dia 1º de abril de 1964.
O presidente João Goulart, que já havia tido dificuldades em assumir o cargo de presidentes após a renúncia de Jânio Quadros, vinha propondo transformações estruturais no âmbito político e social do Brasil, o que sua equipe denominou de “Reformas de Base”. Essas reformas, aos olhos dos críticos do governo, ofereciam brechas para uma guinada comunista de teor radical. O próprio presidente já havia dado atenção a países comunistas à época, como a China, e isso contribuía ainda mais paras as críticas que lhe eram feitas. Além disso, desde o início da década de 1960, havia focos de guerrilha rural no Brasil, como a Liga dos Camponeses Pobres, de Francisco Julião (que tinha conexões com Cuba).
Os ânimos acirraram-se, em março de 1964, e alguns generais deram o ultimato ao presidente. O então governador do Rio Grande do Sul e também cunhado de Goulart, Leonel Brizola, tinha consigo uma parte do exército para defender os ideais do presidente. Brizola propôs resistência ao golpe, mas tal proposta foi debelada por Goulart, que queria evitar uma guerra civil.
A partir de então, os militares aprovaram o texto do AI-1, ato institucional n. 1, que estabelecia ações preliminares para que o mandato de Goulart fosse completado por um presidente militar, entre outras resoluções. Em 1965, foi aprovado o AI-2, que enrijeceu as diretrizes do novo regime de governo instalado, estabelecendo eleições indiretas para presidente e artificializando as ações do Congresso Nacional. As ações políticas deflagradas pelo AI-2 e pelos outros dois atos institucionais subsequentes ocorreram no governo do general Castelo Branco, considerado moderado por muitos historiadores.
Foi ainda durante o governo de Castelo Branco que houve muitas campanhas de lideranças políticas civis contra o regime (sobretudo pela demora em se fazer um novo pleito eleitoral democrático), como a de Carlos Lacerda, que apoiou o golpe em seu início. As ações perpetradas por Carlos Lacerda e outras lideranças ficaram conhecidas como Frente Ampla e tiveram grande repercussão nos anos de 1966 e 1967.
Apesar dessas tentativas de restabelecimento da ordem democrática, o regime não perdeu força. Ao contrário, houve aquilo que os especialistas no tema denominam de “Golpe dentro do Golpe”, isto é, um endurecimento ainda maior do regime militar, com o decreto do AI-5, em 13 de dezembro de 1968, durante o governo de Costa e Silva. O AI-5 cassou as liberdades individuais e deu vazão a atitudes escancaradamente ditatoriais. O Brasil, a partir do ano de 1968, viveu anos muito conturbados. Alguns historiadores acreditam que a “ditadura escancarada”, vinda com o AI-5, deveu-se em grande parte às pressões de ações armadas revolucionárias que já estavam em curso no país – como as da AP (Ação Popular, acusada do atentado à bomba no Aeroporto de Guararapes, em 1966).
Ao governo de Costa e Silva seguiram-se os de Médici e Geisel, que deram vazão ao nacional-desenvolvimentismo, porém com diferenças na condução política. Médici deu prosseguimento à postura “linha-dura” iniciada em 1968. Em seu governo, as ações de prisão, tortura e combate contra guerrilheiros tornaram-se intensivas. Geisel, que assumiu o governo em 1974 e governou até 1979, começou um processo lento de abertura democrática que culminou na Lei de Anistia, de 1979. Esse processo foi completado pelo último general-presidente que o Brasil teve, o general Figueiredo. A transição política começou de forma indireta, quando o Congresso foi reabilitado e os partidos políticos puderam reorganizar-se. O primeiro presidente civil após o governo dos militares foi Tancredo Neves, eleito indiretamente em 1985. Todavia, ele morreu antes de assumir o cargo. O vice, José Sarney, assumiu o posto. As eleições diretas efetivaram-se em 1989 e culminaram na vitória de Fernando Collor de Mello.
Brasil atual
Quando falamos de Brasil Atual, geralmente nos referimos a temas que dizem respeito aos últimos trinta anos de nossa história, isto é, desde o fim dos Governo Militares até os dias de hoje. Nesse sentido, comentaremos temas relativos a esse período, que vai desde a abertura democrática, começada com a Lei de Anistia (de 1979), até as manifestações populares que ocorreram nos anos de 2013 e 2015.
Nesse arco temporal, diversos temas interpõem-se. O Movimento pelas Diretas Já é um dos primeiros e mais significativos. Com a abertura política articulada entre civis e militares, entre os anos de 1979 e 1985, a população vislumbrou a possibilidade de voltar a exercer o direito ao voto direto na eleição de seus representantes. Entretanto, o primeiro presidente civil, após o longo período militar, foi eleito indiretamente em 1985. Seu nome era Tancredo Neves, que faleceu antes de tomar posse. José Sarney, eleito vice, assumiu o cargo, exercendo-o até 1989.
O governo Sarney foi um dos mais conturbados da chamada “Nova República”, sobretudo pelos transtornos econômicos pelos quais o país passou. Todavia, foi durante o governo Sarney que foi reunida a constituinte para a elaboração da nova Constituição Federal. O processo de elaboração da carta constitucional foi encabeçado por Ulisses Guimarães, um dos líderes do novo partido herdeiro do MDB, o PMDB. A versão oficial da Constituição ficou pronta em 1988. Nela havia o restabelecimento da ordem civil democrática e das liberdades individuais, bem como a garantia das eleições diretas.
Em 1989, as primeiras eleições diretas ocorreram e foi eleito como presidente Fernando Collor de Melo. Collor também desenvolveu um governo com forte instabilidade econômica, porém permeado também com grandes escândalos políticos, que desencadearam contra ele um processo de impeachment, diante do qual preferiu renunciar ao cargo de presidente. O vice de Collor, Itamar Franco, continuou no poder até o término do mandato, na passagem de 1993 para 1994. Nesse período, um importante dispositivo financeiro foi criado para resolver o problema das sucessivas crises econômicas: o Plano Real, elaborado e efetivado por nomes como Gustavo Franco e Fernando Henrique Cardoso.
Esse último, parlamentar e sociólogo por formação, candidatou-se à presidência, vencendo o pleito e ocupando esse cargo de 1994 a 1998. Depois, foi reeleito e governou até 2002. Nas eleições de 2002, um dos partidos que haviam nascido no período da abertura democrática, o PT – Partido dos Trabalhadores, conseguiu eleger seu candidato: Luís Inácio Lula da Silva, que, a exemplo de Fernando Henrique, governou o país por oito anos, de 2002 a 2010. De 2010 até o momento presente (2015), a sucessora de Lula, a também filiada ao PT, Dilma Rousseff, vem governando o país.
Fonte: intenet